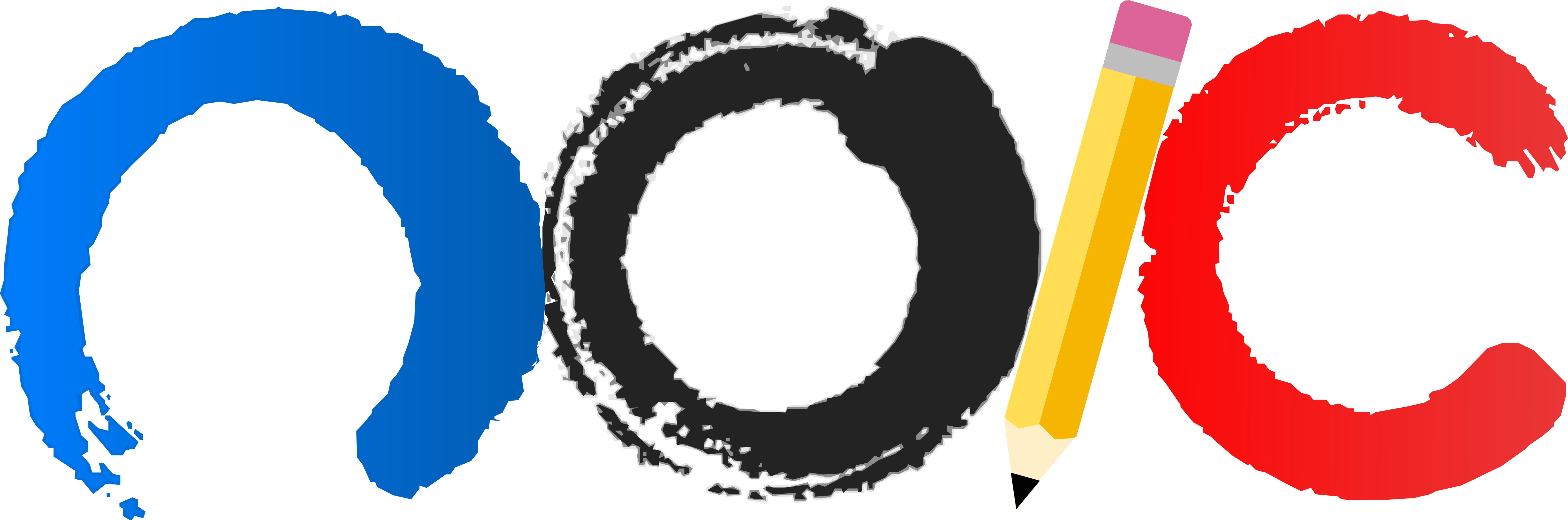Escrito por Gabriel Volpato Lima
A compreensão do conceito de espaço não é unânime na geografia, pois os geógrafos usam diferentes conotações, resultando em divergências conceituais e, consequentemente, diferentes formas de entender a realidade. À medida que o homem evolui intelectual e tecnologicamente, ele aprimora sua habilidade de criar e recriar novas formas de interação no tempo e no espaço, gerando assim novas formas de interpretar e entender o espaço e suas relações.
O conceito de espaço tem uma variedade de significados e usos, exigindo uma discussão sistemática para se obter uma compreensão geral e clara do conceito e sua aplicação como categoria de análise a ser usada na pesquisa. No entanto, cabe aos geógrafos perceber as mudanças contemporâneas e tentar propor novas formas de interpretação ou aplicação de conceitos antigos reestruturados, de maneira consistente e coerente, para obter resultados satisfatórios em seus trabalhos de pesquisa.
Diante da discussão espacial e regional e da necessidade de atualizar a compreensão dos conceitos, é essencial entender a complexidade das relações espaciais e regionais criadas pelo desenvolvimento tecnológico e suas diversas formas de atuação no espaço e, consequentemente, na região. Segundo Castells “a economia global não é aquela que inclui todos os países, regiões e cidades; é aquela que seleciona, em todo o mundo, pontos específicos que se conectam entre si”.
Espaços geográficos por meio da universalização da produção
A globalização, impulsionada pelos avanços tecnológicos, tem integrado e desintegrado os espaços geográficos através da universalização da produção, das telecomunicações e da informática, entre outros. Este processo pode levar à desterritorialização e ao desenraizamento da população em várias partes do mundo, não apenas no aspecto material, mas também no desenraizamento social, cultural e na perda de identidade diante das relações de poder proporcionadas pelo sistema atual. As transformações do espaço resultantes do processo de integração podem ser percebidas através da abstração espacial por meio das novas tecnologias, onde o lugar, a cultura e os costumes estão cada vez mais se universalizando. Estas mudanças são impulsionadas pelo sistema capitalista, que se baseia na expansão imperialista do capital.
Conforme o capital se mundializa em um ritmo acelerado, ocorrem mudanças que são responsáveis pela organização e reorganização espacial em diversas escalas, com repercussões e implicações diferenciadas no espaço geográfico. Neste processo expansionista, o Estado torna-se vulnerável, muitas vezes atuando como aliado na expansão capitalista.
Com a integração dos espaços globais e locais, estes se tornam mais periféricos e desiguais, pois não conseguem competir de maneira justa, economicamente falando, com os espaços globais. Nesse contexto, Diniz Filho observa que “a expansão da fronteira econômica, juntamente com a diversidade dos recursos naturais disponíveis para exploração, favorece o desenvolvimento de amplos mercados nacionais e de sistemas produtivos com alto nível de diversificação setorial e regional”.

A globalização econômica promove a competitividade nas escalas regional e local, criando um desequilíbrio entre esses espaços devido à centralização tecnológica e à concentração econômica e de poder. Isso faz com que a produção local se torne mais integrada e, ao mesmo tempo, vítima do mercado global. Como Ricardo Mendes coloca, “à medida que os lugares mais distantes começaram a ter estruturas e formas semelhantes, só então foi possível a expansão do sistema capitalista como um todo”.
Mendes afirma que a expansão do sistema capitalista só foi possível devido à sua natureza global. As rápidas transformações no mundo contemporâneo, impulsionadas pelas inovações tecnológicas, têm levado à desnacionalização da produção, dos espaços e do sentimento de pertencimento a um lugar, bem como à mudança de identidade e origens. Esses avanços tecnológicos facilitaram a integração de comunidades com diferentes características de espaço-tempo. Hall argumenta que essas novas características temporais e espaciais, que resultam na compressão de distâncias e escalas temporais, são alguns dos aspectos mais importantes da globalização que afetam as identidades culturais.
Com uma crescente tendência à interdependência global, as identidades culturais estão se desintegrando, resultando em uma fragmentação ou multiplicidade de expressões que podem ser chamadas de pluralismo cultural. Esse processo de infiltração das culturas globais pode ser percebido através da identificação de vários elementos materiais ou simbólicos presentes principalmente no lugar, entendido como espaço de convivência ou cotidiano. Isso inclui elementos ligados à telecomunicação, como antenas parabólicas, TV, rádio, internet em alguns casos, até modelos de vida, comportamento, consumo. Além disso, outros fatores, como migração, turismo, música, cinema, entre outros segmentos, também contribuem para a incorporação de culturas plurais, manifestando a hegemonia cultural dos países dominantes na economia global. Featherstone chamou esse processo de globalização da cultura, liderada pela hegemonia dos Estados Unidos, que influencia diretamente ou indiretamente nos Estados-Nação, denominado pelo autor de terceira cultura.
Assim, a expansão ideológica do progresso e do consumismo se expande de maneira diferente no espaço-tempo e chega às áreas periféricas, principalmente no período pós-guerra. É nesse contexto que os ideais de modernização do campo, com a introdução de equipamentos, ferramentas, racionalização e capital criados pelos Estados Unidos com a Revolução Verde, surgem nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, resultando na infiltração de valores, símbolos e imagens baseados em ideais externos.
Diferentemente da cultura global que busca a homogeneização a partir do modelo norte-americano, a cultura local é geralmente percebida como uma particularidade. Como Featherstone relata, “esse conceito é frequentemente usado para se referir à cultura de um espaço relativamente pequeno, limitado, onde os indivíduos que vivem lá têm relacionamentos diários, cara a cara”. Assim, a cultura local evidencia o senso de pertencimento, as experiências sedimentadas, as manifestações, o modo de vida particular do lugar, os costumes e tradições.
O processo de globalização é paradoxal. Enquanto busca a integração, interdependência e homogeneização, também cria e reinventa novas formas de pensar, agir e trabalhar, resultando na fragmentação ou diversidade do espaço territorial.
A modernização tecnológica na agricultura familiar tem levado ao surgimento de novas atividades não-agrícolas, ao mesmo tempo que padroniza o modelo de produção e consumo, moldando diferentes formas de produção do espaço, muitas vezes sem história ou identidade. Esse processo tem promovido a realocação de atividades e trabalhadores do campo, gerando conflitos tanto no espaço rural quanto no urbano. Muitos estudiosos se referem a essa dinâmica como um processo de “desterritorialização”, que seria uma das marcas fundamentais do nosso tempo.
A racionalização dos meios de produção, que veio com a tecnificação da agricultura, possibilitou o crescimento econômico, mas também aprofundou as relações entre a produção e o processo produtivo, levando o campo a novas organizações espaciais.
Em contraste com a visão marxista de como a agricultura evolui na sociedade capitalista, há uma perspectiva que coloca a persistência de uma economia essencialmente familiar e artesanal fora do sistema capitalista. O aumento da força de trabalho da família camponesa, que se traduz em desenvolvimento para a atividade agrícola, deve ser compensado. A falta de capital dentro da família é um desafio.
Assim, o é possível reconhecer a subordinação relativa do camponês ao capital, mas enfatizar que a principal preocupação do camponês é com as condições internas de sua unidade produtiva. Isso permite ao camponês reagir às forças destrutivas do capitalismo através da criação e recriação de estratégias de sobrevivência.

Outro autor, já conhecido de outras aulas (nosso querido Kautsky) baseado no método do materialismo histórico e dialético proposto por Marx, também delineia questões relacionadas às transformações que a agricultura sofreu com a expansão do modo de produção capitalista no campo, principalmente através da explosão de inovações. De acordo com ele, o grande estabelecimento deve demonstrar sua superioridade em relação ao pequeno, destacando assim o fenômeno da proletarização dos pequenos proprietários. Ele argumenta que:
“... os pequenos lavradores são menos atirados, mais conservadores e estão menos familiarizados com os progressos técnicos e as necessidades do mercado internacional que os grandes agricultores e os capitalistas. Foram os grandes latifundiários que primeiro introduziram as grandes indústrias em suas terras.
O autor destaca as dificuldades que os estabelecimentos produtores de mercadorias, especialmente os de médio e pequeno porte, enfrentam devido à migração do trabalhador rural para a cidade. Ele observa que quando a industrialização da agricultura não leva o pequeno estabelecimento à decadência, ela pelo menos decreta sua dependência da fábrica, a única compradora de seus produtos, tornando este pequeno produtor seu escravo.
Ao examinar a incorporação da agricultura brasileira às regras do capitalismo oligopolista contemporâneo, um autor afirma que o tipo de industrialização da agricultura implementada no país nas décadas de 60 e 70 foi a mecanização e quimificação (especialmente o uso de fertilizantes e defensivos químicos), devido ao pacote tecnológico de origem norte-americana, aplicado em vários países do mundo pós-guerra. Isso resultou em uma modernização parcial de acordo com regiões, produtos e tipo de produtores.
A integração dos produtores ao processo de industrialização da agricultura ocorreu de maneira parcial desde o início, às vezes baseada em sua capacidade de resposta à expansão e diversificação impulsionadas pelas agroindústrias, e às vezes em sua capacidade de acesso ao crédito rural. Como resultado, apenas alguns grupos com tradição mercantil ou aqueles organizados em associações conseguem acesso a quase todo o crédito estatal para investimento, custeio e comercialização.
O processo de modernização da agricultura brasileira durante esse período levou a uma evolução favorável da produtividade, tanto da terra quanto do trabalho. No entanto, também aumentou as taxas de desemprego, subocupação e até mesmo de trabalho excessivo, como no caso de crianças e mulheres que fazem parte das categorias não remuneradas e trabalhadores itinerantes.
As forças produtivas colocam a tecnologia a serviço das grandes empresas, ao mesmo tempo que oferecem oportunidades no mercado para os produtores camponeses. Isso permite que o campesinato aumente sua produtividade de trabalho e até acumule economias que muitas vezes são reinvestidas na compra de terras. Na maioria das vezes, essas terras são adquiridas de vizinhos que optaram pela migração ou foram literalmente expropriados.
A migração não implica necessariamente no abandono da terra. Pode ser uma estratégia adotada pelos camponeses para aumentar a área cultivada. Por exemplo, uma família pode comprar ou arrendar terras, ou se dividir e seus membros se mudarem para outros estabelecimentos em novas áreas. Ainda sobre as estratégias de sobrevivência no campo, há a questão da substituição de produtos tradicionais por outros mais lucrativos, o uso de insumos modernos e trabalho externo à unidade de produção que pode ser realizado em locais ou propriedades muito distantes e por longos períodos.
Há uma crítica severa à análise marxista clássica sobre a dinâmica de inovações na agricultura brasileira. Este ponto de vista é extremamente determinista, mostrando que a partir da década de 60, o que ocorreu no Brasil, como reflexo das transformações capitalistas na agricultura mundial, foram as mudanças nas relações de trabalho pré-capitalistas e na base produtiva. Portanto, nesta realidade, predomina a grande propriedade mecanizada com base no trabalho assalariado. A permanência de unidades familiares como base principal da produção agrícola nos países de capitalismo avançado é explicada pela maior competitividade destas em comparação às baseadas no trabalho assalariado, devido às especificidades do setor agrícola.
Conclusão
Ao examinar as transformações e perspectivas da agricultura brasileira, um autor destaca que as mudanças resultantes da modernização, iniciada na década de 50, serviram para conectar cada vez mais o setor agrícola ao setor urbano-industrial. Essa modernização atingiu metas antes inimagináveis, como transformar áreas improdutivas em produtivas, o que ocorreu com o cerrado brasileiro para o cultivo de cana-de-açúcar, café, soja e laranja. Nesse contexto da década de 70, o Estado assume o papel de interventor, através de políticas públicas comandadas pelo instrumento de crédito rural subsidiado, favorecendo principalmente a capitalização da grande propriedade, embora muitas pequenas propriedades no país também tenham se beneficiado dessas políticas.
Na década de 80, houve um enfraquecimento do padrão de financiamento, baseado no crédito agrícola, devido, entre outras coisas, à queda dos preços dos produtos e à política agrícola do país que passou a ser comandada pelo preço mínimo. A década de 90 trouxe ainda mais o agravamento da crise e o enfraquecimento da capacidade financeira do Estado deixou a agricultura profundamente afetada.