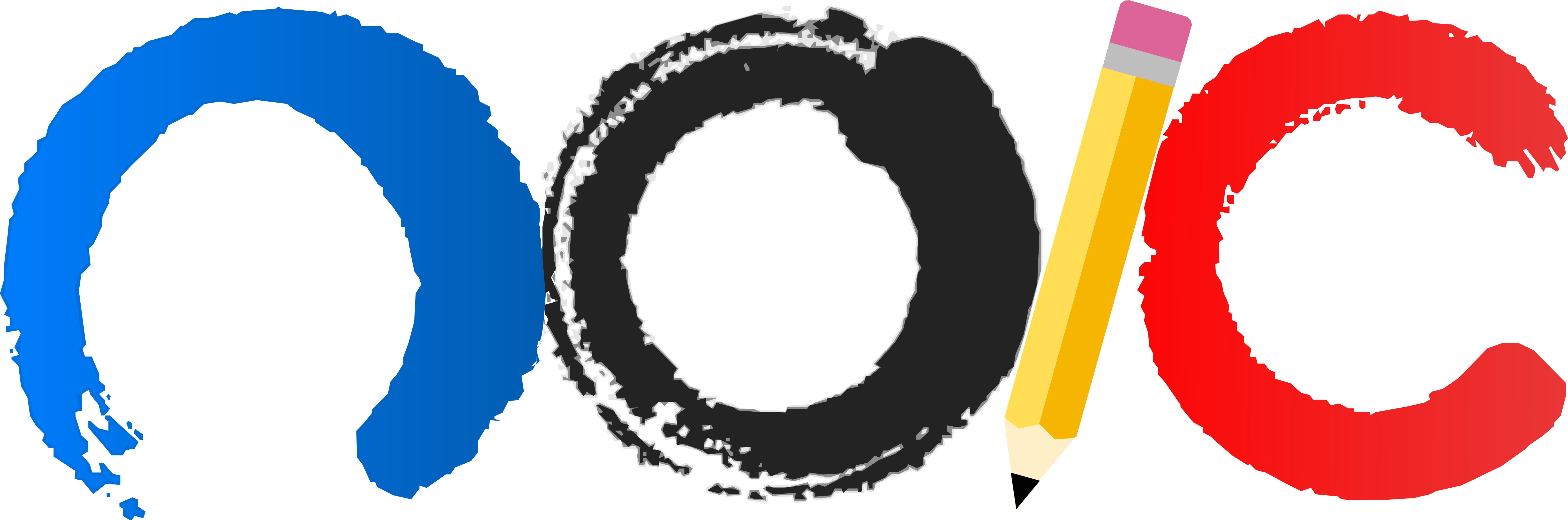Escrito por Gabriel Volpato Lima
Os primeiros séculos da ocupação foram marcados por esse processo de disponibilização territorial, que envolveu a desvinculação inicial dessas tribos indígenas de sua base territorial para uma posterior relocalização. Nesse processo, dois grupos se mostraram fundamentais: os bandeirantes e os jesuítas.

Martim Afonso de Souza chegou em 1530 para efetivamente iniciar o processo de colonização do Brasil. Com esse objetivo, ele fundou, em 1532, a vila de São Vicente, implantando em seus arredores os primeiros engenhos de cana-de-açúcar. O sucesso desse espaço agrário voltado para a exportação dependia diretamente da disponibilização de mão de obra, tanto para o trabalho direto na lavoura quanto para o trabalho nos engenhos.
A mão de obra necessária foi buscada entre os cerca de 5 milhões de indígenas que habitavam o Brasil no início da colonização portuguesa. Assim, numa relação de interdependência, o trabalho dos bandeirantes na captura e escravização de indígenas foi fundamental para a manutenção do processo produtivo que se iniciava.
Ao longo da história da humanidade, os agricultores sempre buscaram desenvolver novas técnicas que lhes proporcionassem maior produção e maior independência em relação às condições naturais. A agricultura permitiu a fixação do homem em um determinado lugar e promoveu o avanço da relação entre o homem e o meio natural. No entanto, mesmo adubando a terra, era impossível utilizar a mesma área agrícola de forma permanente, levando os agricultores a praticar o pousio, ou seja, interromper o cultivo em certas áreas por um ou mais anos, para que a própria natureza recuperasse a fertilidade do solo.
Durante a Idade Média, na Europa, uma inovação muito importante permitiu que as áreas agrícolas fossem utilizadas sem interrupção: a rotação de cultura. Esta consistia no revezamento dos produtos cultivados em pequenos intervalos de tempo. Com esse revezamento, a nova planta repunha no solo os nutrientes que o produto anterior havia retirado, além de não deixar as terras paradas, ou seja, improdutivas. Tal inovação possibilitou ampliar a produção e, consequentemente, com o excedente produzido, gerou um acúmulo primitivo de capital.
Portanto, a história da agricultura e sua influência na formação do Brasil é um aspecto fundamental para entender a evolução socioeconômica do país. A agricultura e a pecuária desempenharam um papel crucial na formação do Brasil colonial, contribuindo para a expansão territorial e a consolidação do país. As atividades agropecuárias não só forneceram alimentos e matérias-primas necessárias para a sobrevivência e o crescimento da população, mas também impulsionaram o desenvolvimento econômico, facilitando o comércio e a acumulação de riqueza.
Jesuítas e Bandeirantes
As missões jesuíticas tiveram a função fundamental de relocalizar as tribos indígenas no território nacional, a partir da incorporação da política de aldeamento proposta pela Coroa portuguesa. Enquanto os bandeirantes tinham como objetivo principal “limpar o terreno” para a posterior entrada e ocupação do espaço pelos colonos, a partir da desarticulação e extinção das comunidades indígenas, os jesuítas atuavam na realocação dessas comunidades em pontos de mais fácil controle.
O início da ação jesuítica remonta ao período colonial, com a presença na comitiva do primeiro governador-geral, Tomé de Souza. É neste período que a política de realdeamento começa a ser posta em prática. Esta política traz consigo a filosofia de catequizar os indígenas brasileiros, apresentando-lhes uma série de elementos da cultura europeia de base cristã. O objetivo principal era alterar a relação dos indígenas com o território e o meio, a partir da modificação dos valores que fundamentavam sua cultura.

Os jesuítas acreditavam que a desconstrução dos laços com o território e a desarticulação da cultura indígena facilitaria a troca de sua visão de mundo. O rompimento com a visão de que comunidade indígena e meio constituem um todo integrado, e a substituição pela visão europeia, em que se estabelece a separação nítida entre sociedade e natureza, é um passo importante para que o projeto colonial seja bem-sucedido.
Uma vez consolidado o processo de expropriação das terras indígenas e a consequente apropriação destas terras pela Coroa portuguesa, é hora de se pôr em prática o segundo momento da política territorial para a colônia. Pôr em uso as terras, para obtenção de renda e lucro. A agricultura e a pecuária desempenharam um papel crucial nesse processo, contribuindo para a expansão territorial e a consolidação do país. As atividades agropecuárias não só forneceram alimentos e matérias-primas necessárias para a sobrevivência e o crescimento da população, mas também impulsionaram o desenvolvimento econômico, facilitando o comércio e a acumulação de riqueza. Portanto, a história da agricultura e sua influência na formação do Brasil é um aspecto fundamental para entender a evolução socioeconômica do país.
Formação territorial brasileira (pela perspectiva fundiária)
A partir da disponibilização espacial, uma nova forma de uso e distribuição pôde ser posta em prática. Foi a partir da Lei de Sesmarias que a política territorial ganhou forma na colônia. Esta lei, transposta diretamente da metrópole colonial e implantada na colônia, estava baseada em uso produtivo, no caso brasileiro a produção de açúcar para o mercado internacional. A Lei de Sesmarias é um sistema de distribuição de terras pelo poder central da metrópole colonial, em que o beneficiário é um gestor de um pedaço de terra em favor da efetivação de um projeto de configuração espacial.
Toda a terra do espaço brasileiro é considerada propriedade da Coroa portuguesa. Com base na grande propriedade, é excluída qualquer política territorial que leve em consideração a pequena propriedade. Contudo, a pequena propriedade irá se desenvolver baseada na policultura em terras marginais à da grande propriedade, até mesmo pela necessidade de se providenciar alimentos e outros bens de subsistência para as fazendas e as vilas e povoados.
A Lei de Sesmarias foi implantada a partir da expedição de Martim Afonso de Souza, cuja principal função seria a de confirmar o domínio da Coroa portuguesa sobre todo o território já ocupado. Este território, uma vez apropriado, seria dividido no sistema de capitanias. Assim, o rei de Portugal concederia capitanias a seus súditos, donatários, que poderiam ceder o uso da terra no sistema de sesmarias, desde que o rei fosse informado e que o projeto de ocupação não fosse alterado.

A análise da estrutura fundiária oferece uma base para a interpretação das desigualdades atuais. A divisão das terras para seu uso ocorre sobre um processo histórico e envolve as normas e direitos estabelecidos essencialmente pelas políticas estatais. No Brasil, a criação e estabelecimento de um projeto de exploração do território recém-incorporado pelos portugueses, durante o século XVI, constituíram-se como a base do que é a atual estrutura fundiária de grandes propriedades, concentrada e de produção agroexportadora.
A ideia de descobrimento, que muitas vezes se vincula à história do Brasil, corrobora com uma justificativa eurocêntrica para a exploração de uma terra “encontrada” – como se encontra um objeto – que se soma às propriedades de quem a encontra e lhe serve de acordo com suas ambições. Diferentemente, para nós, é importante compreender o Brasil como uma invenção territorial, arquitetada de forma muitas vezes violenta sobre uma terra já ocupada por sociedades diversas e de modelos de organização social variados. Portanto, a história da agricultura e sua influência na formação do Brasil é um aspecto fundamental para entender a evolução socioeconômica do país.
As terras, que antes eram de domínio comunitário, característico da organização espacial indígena, foram sendo transferidas gradativamente para o controle privado dos colonos, promovido pela nova lei de terras implantada pela Coroa portuguesa. A Coroa estava interessada em garantir que a ocupação econômica se efetivasse de forma que seus lucros, conseguidos pela exportação da produção açucareira, fossem garantidos.
A grande fazenda produtora de cana ou de criação de gado se configurou como o verdadeiro agente transformador da paisagem e o principal organizador do espaço agrário brasileiro. As fazendas de lavoura de cana se concentraram no litoral, nas áreas originalmente cobertas pela mata atlântica, enquanto que as fazendas de criação de gado ocuparam as áreas interioranas cobertas pela vegetação campestre.

Havia espaços consideráveis entre uma fazenda e outra, e foi exatamente nesse espaço não ocupado que se instalaram as pequenas unidades de produção agrícola, onde se estabeleceram as vias de circulação e onde surgiram vilas, cidades e povoados.
A “plantation” canavieira se constituiu na base desse arranjo espacial que se iniciou no período colonial. Isso conferiu ao engenho e à fazenda de lavoura canavieira um caráter centralizador. Todo o restante, até mesmo a grande fazenda de criação de gado, se agregou a ela, seguindo seu movimento durante todo o período colonial.
Dessa forma, pode-se considerar que a lavoura da cana-de-açúcar é o ponto inicial da fundação da colônia, se consolidando especialmente nas capitanias de São Vicente, Bahia e Pernambuco. Sendo uma atividade próspera e lucrativa, a fazenda canavieira e os engenhos são o foco de atenção da Coroa portuguesa, e sua disseminação por todo o território nacional é fundamental, se transformando no principal elemento de ocupação do território brasileiro. É esse arranjo espacial que consolida a nova relação entre sociedade e natureza implantada na colônia, aniquilando gradativamente a lógica comunal indígena baseada na relação harmônica entre homem e meio. Portanto, a história da agricultura e sua influência na formação do Brasil é um aspecto fundamental para entender a evolução socioeconômica do país.
Esse elemento estruturador do espaço agrário brasileiro ocupou inicialmente os vales dos rios e suas encostas próximas nas províncias onde prosperava - São Vicente, Bahia e Pernambuco -, alterando profundamente a paisagem nas localidades onde se instalava. Substituiu imediatamente a floresta por áreas de cultivo, e avançou cada vez mais sobre terras novas, seja por necessidade de aumento da sua produção ou pela necessidade de lenha para ser transformada em energia nos engenhos de açúcar.
A monocultura açucareira passou a assumir o domínio da paisagem nos lugares onde era implantada, sempre localizadas em áreas que facilitavam o escoamento da produção e das plantations, fazendo uso da melhor situação geográfica no território, assim como das terras de solos mais férteis. Tanto na Bahia quanto em Pernambuco, as áreas dos férteis solos de massapê foram as destinadas ao domínio canavieiro.
O principal do arranjo espacial é o engenho de cana-de-açúcar. Localizado às margens do rio, faz com que todas as demais atividades girem ao redor de sua zona de influência. Desde a organização dos canaviais de senhores sem engenho, até a estruturação das vilas e da agricultura policultora que ocupa as terras menos férteis.
No arranjo espacial mais ao interior, se encontra a grande fazenda de criação de gado, que se estrutura de forma a atender a centralidade do engenho, expressa por sua necessidade de consumo de carne e de matéria-prima para a confecção de determinados instrumentos essenciais à produção canavieira. Assim, carne e couro são os principais produtos enviados pelas áreas mais interioranas de ocupação para que se viabilize a manutenção do processo de organização espacial desencadeado pelas unidades canavieiras que ocupam as terras litorâneas.