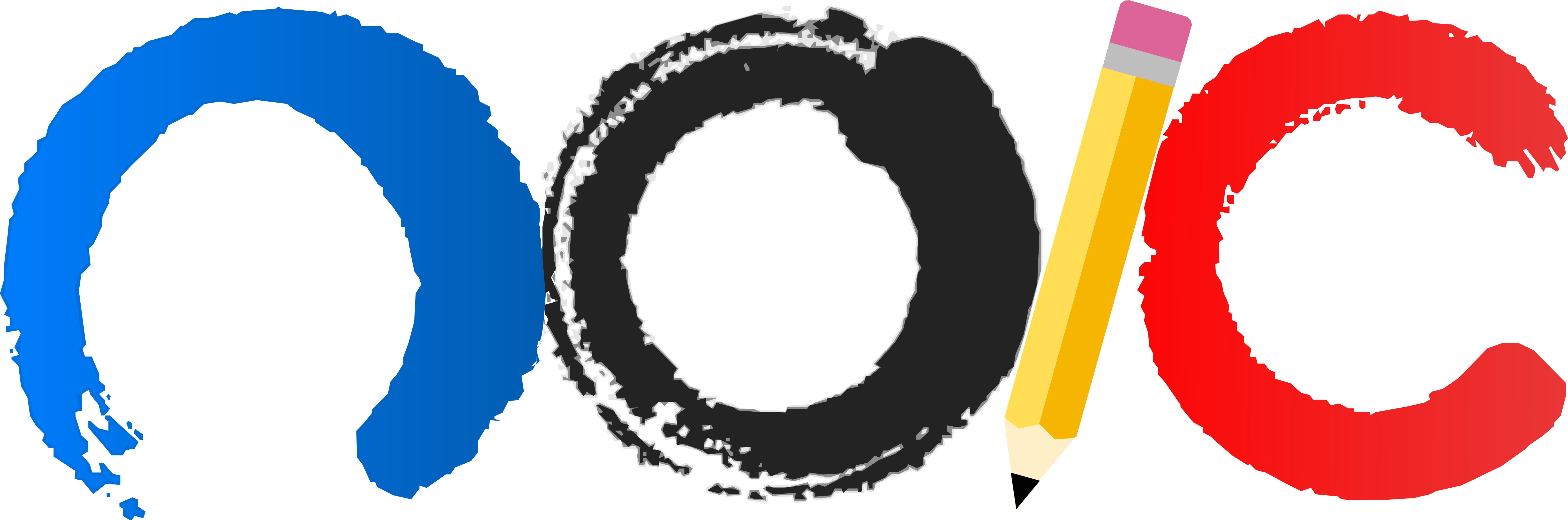Escrito por Gabriel Volpato Lima
Entender a origem das atividades agrícolas no mundo e como elas chegaram aos diferentes países é fundamental para discutir a concepção de campesinato e sua origem no território brasileiro.
O campesinato, em linhas gerais, não está unicamente relacionado às atividades agrícolas. Ele gira em torno de um conjunto de elementos inter-relacionados - família, terra e trabalho - que caracterizam o real significado do pequeno produtor rural como camponês. Portanto, é a partir desta trilogia que vamos estudar ao longo desta aula.
A modernização tecnológica e científica no campo tem revolucionado e ao mesmo tempo reproduzido suas forças produtivas, incluindo o campesinato. Nesta aula, iremos analisar o processo de (re)criação do campesinato e caracterizar a relação de subordinação do camponês diante da modernização tecnológica conservadora que vem ocorrendo ao longo das três últimas décadas no espaço agrário brasileiro. O estudo das questões agrárias é essencial para proporcionar ao estudante pesquisador uma compreensão do camponês como símbolo de resistência às políticas globalizantes. Essas políticas, direta ou indiretamente, são responsáveis pelas transformações do espaço agrário e criam a necessidade de repensar as relações de produção existentes no campo.
O capitalismo
O sistema capitalista, caracterizado pela relação de produção entre exploradores e explorados com o objetivo de extrair a mais-valia e acumular riquezas para uma classe social, enquanto exclui e marginaliza outra, ganhou maior significado com o desenvolvimento das cidades, da indústria e do transporte nos séculos XV e XVI. No entanto, com o processo expansionista europeu, o espaço agrário também se tornou palco de novas formas de exploração com o objetivo de alimentar a reprodução do capital em escala mundial.
Com o desenvolvimento e expansão do sistema capitalista, inicialmente na Europa e posteriormente nos continentes dominados pelos colonizadores, iniciou-se o processo de transformação das relações de produção no espaço agrário mundial e, consequentemente, no Brasil. No entanto, é importante lembrar que esse processo não ocorreu de maneira linear no espaço geográfico. Em algumas áreas onde culturas milenares estavam enraizadas, a resistência às novas formas de produção agrícola deixou marcas na sociedade e no modelo de produção.
O modo de produção capitalista se desenvolve, via de regra, (e exceto em certas colônias) primeiramente nas cidades, e na indústria em primeiro lugar. Habitualmente a agricultura permanece intocada por muito tempo e longe da influência da cidade. No entanto, o desenvolvimento industrial já conseguiu modificar o caráter da produção agrícola” (KAUTSKY, 1998, p. 37)
Nesse contexto, é importante mencionar as transformações do espaço agrário europeu do século XIX e início do século XX, principalmente na Alemanha e na Rússia. Essas transformações foram o foco das discussões fervorosas dos clássicos como Kautsky, Lênin e Chayanov. Enquanto para os dois primeiros, o desenvolvimento do sistema capitalista provocaria o fim do campesinato, para o último, haveria a permanência do campesinato diante dos objetivos opostos do capitalismo.
Para Lênin, o campesinato se extinguiria à medida que a modernização capitalista penetrasse em todos os espaços restantes da ampliação do capital. A partir das teorias desenvolvidas por Kautsky, o campesinato é analisado dividindo os agricultores em pequenos, médios e grandes proprietários. O desenvolvimento da indústria e do comércio penetra no campo, criando a necessidade do camponês obter dinheiro através da conversão de seus produtos no mercado.
Por outro lado, a corrente baseada nos fundamentos teóricos de Chayanov argumenta que o campesinato persistirá com o emprego da força de trabalho familiar baseada na relação entre tamanho da propriedade, volume de trabalho e área cultivada. Assim, o aumento da produção, nessa perspectiva, não depende do emprego de novas técnicas, mas da variação do tamanho da família e da auto-exploração da força de trabalho familiar, obedecendo ao equilíbrio entre o número de trabalhadores e de consumidores.
As raízes históricas do campesinato no Brasil
Jacques Chonchol, um renomado estudioso chileno da problemática agrária da América Latina, tem destacado a ausência de uma história social do campesinato no Brasil na historiografia brasileira. Embora existam excelentes estudos históricos sobre este tema, ainda não dispomos de uma obra de síntese capaz de interpretar a natureza e a trajetória particulares do campesinato brasileiro.
O “modelo original” do campesinato brasileiro reflete as particularidades dos processos sociais mais gerais da própria história da agricultura brasileira. Isso inclui o seu quadro colonial, que se perpetuou como uma herança após a independência nacional, a dominação econômica, social e política da grande propriedade, a marca da escravidão e a existência de uma enorme fronteira de terras livres ou passíveis de serem ocupadas pela simples ocupação e posse.
Minha hipótese geral, já formulada em outros textos anteriores, consiste em afirmar que “no Brasil, a grande propriedade, dominante em toda a sua História, se impôs como modelo socialmente reconhecido. Foi ela quem recebeu aqui o estímulo social expresso na polìtica agrícola, que procurou moderniza-la e assegurar sua reprodução. Neste contexto, a agricultura familiar sempre ocupou um lugar secundário e subalterno na sociedade brasileira. Quando comparado ao campesinato de outros paises, foi historicamente um setor "bloqueado", impossibilitado de desenvolver suas potencialidades enquanto forma social especifica de produção” (WANDERLEY.1995).
A história do campesinato no Brasil pode ser definida como o registro das lutas para conseguir um espaço próprio na economia e na sociedade. É importante entender as condições que ele encontra - estímulos ou obstáculos - e de que maneira os absorve ou os supera em sua trajetória. Nesta análise, destacam-se três objetivos que parecem permanecer ao longo da história do campesinato brasileiro e que se constituem como núcleos centrais em torno dos quais se estrutura o amplo leque das estratégias adotadas: as lutas por um espaço produtivo, pela constituição do patrimônio familiar e pela estruturação do estabelecimento como um espaço de trabalho da família.
O surgimento do campesinato brasileiro é um tema de debate entre os estudiosos. Alguns argumentam que o campesinato é resultado da exclusão dos homens brancos pobres e livres durante o período colonial escravocrata. Outros sugerem que, além do homem branco pobre, os povos indígenas e os escravos que estavam à margem dos interesses colonialistas também contribuíram para a formação do campesinato.
Durante o período colonial brasileiro, a terra não tinha valor de troca e, portanto, a renda da terra estava ligada à sua produtividade. Isso incentivou o desenvolvimento de uma agricultura concentradora de terras e de renda, atendendo aos interesses da agricultura capitalista.
Em contraste, a agricultura camponesa visa atender às necessidades básicas da família. Apenas em casos excepcionais, o camponês consegue gerar uma renda excedente. No entanto, mesmo nesses casos, o camponês não pode ser caracterizado como capitalista, pois o excedente não pode ser compreendido como lucro-capitalista, mas sim como o recurso que será trocado por outros produtos que o camponês não conseguiu produzir.