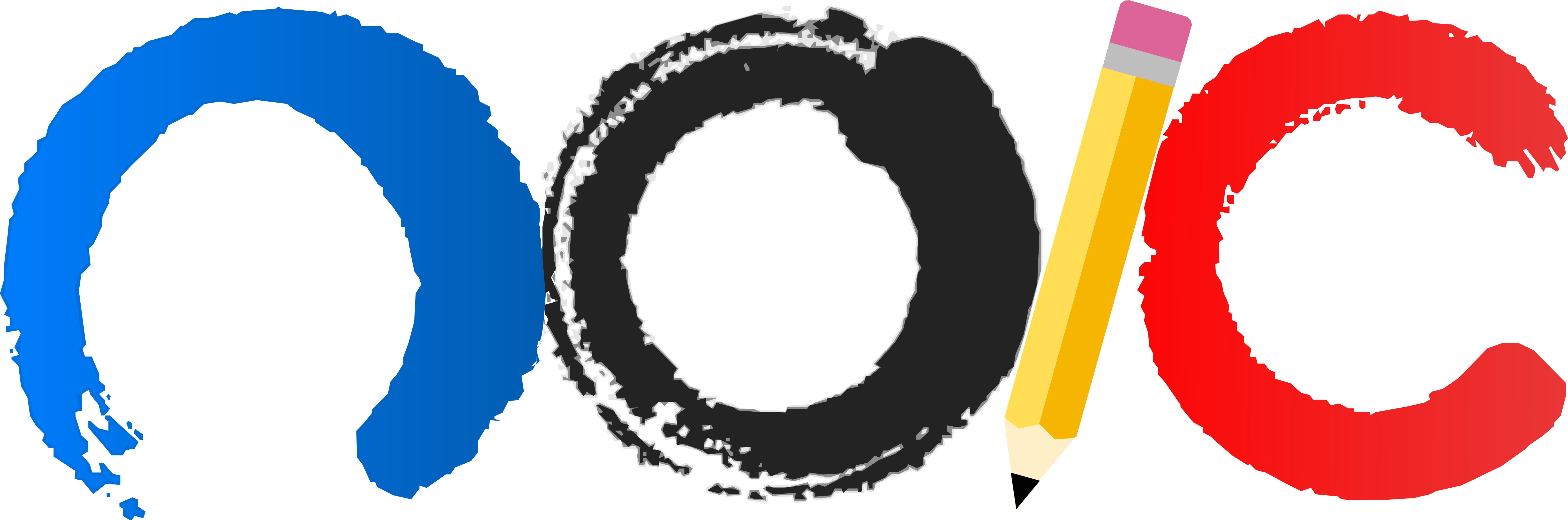Escrito por Gabriel Volpato Lima
Esta aula discute a modernização conservadora da agricultura brasileira e o papel da agricultura familiar no contexto da expansão capitalista. A agricultura brasileira se tornou um mercado crucial para a expansão do capitalismo industrial, através da produção de equipamentos, fertilizantes e financiamento agrícola. Isso foi facilitado por uma rede de integração econômica, com a agricultura fornecendo matéria-prima para as agroindústrias. Este processo começou principalmente no final da década de 1950, marcando o início da implantação do capital industrial no campo brasileiro.
A modernização conservadora
A agricultura brasileira evoluiu a partir da implantação de plantations, com foco nos interesses econômicos e no crescimento do mercado exportador. Isso contribuiu para uma estrutura fundiária altamente concentrada, excluindo os cultivos de subsistência e resultando em baixo padrão de vida para aqueles sem acesso à terra, renda e emprego. A expansão da agricultura “moderna” ocorreu paralelamente à formação do complexo agroindustrial, modernizando a base técnica dos meios de produção e alterando as formas de produção agrícola. No entanto, essas transformações foram heterogêneas, com políticas de desenvolvimento rural que perpetuaram desigualdades e privilégios.
Entre 1970 e 1990, houve uma intensa modernização da agricultura no Brasil, especialmente nas áreas de concentração industrial. Isso levou à mecanização concentrada da agricultura e, consequentemente, à renda. Como resultado, muitos pequenos e médios agricultores foram arruinados, levando a um êxodo rural. O processo de modernização da agricultura brasileira é um movimento transformador que instala um novo modelo centrado na tecnificação agrícola. No entanto, essa modernização cria um ambiente de complexidades estruturais, técnicas e sociais que esconde uma gama de interesses e produz conflitos socio-produtivos. A nova lógica moderna da estrutura agrícola tenta se basear em paradigmas político-econômicos que não respondem às demandas sociais no campo.
O processo de modernização da agricultura no Brasil revela que a inclusão da pequena agricultura, motivada pela lógica cooperativista ou associativista, não busca melhorar as condições de trabalho e reprodução social no campo. A tecnologia não é introduzida de maneira generalizada em todos os níveis da agricultura familiar. Em vez disso, o capitalismo se interessa pela modernização da pequena agricultura apenas quando a acumulação lucrativa na grande agricultura familiar está saturada.
O uso de agrotóxicos no subsetor de alimentos é favorecido pelo aparato extensionista do governo. Este subsetor torna-se uma área principal para a modernização conservadora, com a produtividade garantindo a acumulação capitalista e a subordinação da pequena agricultura familiar.
A Revolução Verde, iniciada nos Estados Unidos e expandida para outros países após a Segunda Guerra Mundial, visava aumentar a produção e a produtividade agropecuária e reduzir o tempo de ciclo de vida das plantas. Isso exigiu o uso intensivo de insumos químicos, sementes geneticamente modificadas, expansão do sistema de irrigação e intensa mecanização. No entanto, essa abordagem levou ao aumento do desemprego no campo e nas cidades, mas também aumentou a produtividade.
No entanto, esse pacote tecnológico foi copiado por diferentes países sem considerar as condições socioeconômicas e ambientais, levando a efeitos adversos em muitos lugares. No Brasil e em outros países tropicais, a aração é geralmente prejudicial ao cultivo e ao meio ambiente. Após a aração, se a insolação for muito intensa e o solo ficar exposto a altas temperaturas, os microrganismos morrem. Além disso, a aração deixa o solo mais fofo e, em caso de chuvas fortes, mais suscetível à erosão, um dos principais problemas ambientais da agricultura brasileira e de outros países de clima tropical.
A partir dos anos 70 e 80 do século XX, a terceira Revolução Industrial impulsionou uma reestruturação intensa do espaço mundial, com avanços tecnológicos e globalização econômica. A agricultura se tornou parte integrante desse processo de expansão do sistema capitalista, especialmente em termos de produção e consumo. No entanto, a inserção da agricultura na competitividade do mundo capitalista resultou em um aumento do desemprego e da fome em escala global, pois a modernização beneficiou principalmente o grande produtor rural, excluindo o pequeno produtor que não possuía capital e informação para se inserir nas transformações agrícolas.
No século XXI, a globalização da economia mundial, impulsionada pelos avanços tecnológicos e pela expansão do sistema capitalista, levou à descentralização industrial por meio de multinacionais e subsidiárias responsáveis pela modernização do campo e da cidade. No entanto, os benefícios gerados pela tecnologia não são distribuídos igualmente em todos os setores da economia, resultando em concentração de tecnologia e riqueza para alguns, e exclusão e pobreza para outros que não conseguem se adaptar à modernização tecnológica.
Nesse contexto, surge a discussão sobre o desenvolvimento das atividades não-agrícolas no Brasil. Embora essas análises sejam recentes, a existência de atividades urbanas no meio rural é relativamente antiga. Esta é uma abordagem inovadora em relação à agricultura familiar no Brasil, diante da progressiva desestruturação das famílias rurais, reflexo das políticas públicas (ou ausência delas) adotadas no país e aplicadas de maneira diferente nas diversas regiões brasileiras.
Agricultura familiar
A agricultura familiar, intimamente ligada à produção de alimentos e à oferta de matéria-prima, é uma atividade fundamental na economia brasileira. No entanto, ela ainda enfrenta estigmas de atraso produtivo. A pequena produção agrícola, apesar de desempenhar um papel importante na produção nacional de alimentos, é frequentemente vista como um subsetor acessório do sistema agrícola de exportação.
Durante o processo de Modernização Conservadora nas décadas de 1960 e 1970, a agricultura familiar confrontou-se com um modelo técnico agrícola que favorecia a grande produção agrícola em detrimento da pequena produção familiar. Isso resultou em um atraso na agricultura familiar, particularmente no Nordeste brasileiro, onde a agricultura de subsistência é predominante.
A modernização agrícola, orientada para a expansão do complexo agroindustrial, não foi totalmente absorvida pelos pequenos produtores devido a várias limitações, incluindo a incompatibilidade entre a escala mínima requerida pelo novo padrão e a insuficiência dos recursos produtivos e financeiros disponíveis. Além disso, esses agricultores não receberam apoio governamental adequado durante o período de modernização agrícola. Portanto, a agricultura familiar continua a ser colocada em uma posição secundária ou inferior dentro do setor agrícola nacional.
A agricultura tecnicizada, como modelo de cultura dominante, reflete o desenvolvimento agrícola que o Brasil construiu com a Modernização Conservadora na década de 70. A partir dos anos 1970, surgem propostas para modernizar a agricultura familiar tradicional e integrá-la à economia agrícola nacional. No entanto, a modernização da agricultura familiar de pequeno porte levanta questões sobre sua relação com a agricultura de subsistência e o atraso do sistema produtivo familiar tradicional.
A busca por tecnologia adequada à produção familiar torna-se relevante, mas a introdução de uma tecnologia inapropriada pode expressar a incapacidade do agricultor familiar de criar suas próprias tecnologias, levando a uma dependência tecnológica.
A introdução de práticas não-agrícolas complementares, conhecidas como pluriatividade, é vista como uma das formas alternativas para o desenvolvimento agrícola em áreas de agricultura familiar de pequeno porte. Isso sugere a existência de uma revolução socio-produtiva eficaz, com o uso de técnicas alternativas não químicas e não capitalistas, que poderia garantir uma reviravolta socioeconômica, produtiva e ambiental, introduzindo um modelo mais justo de produção e reprodução social no meio agrícola.
Pluriatividade
A pluriatividade é um conceito que se originou na Europa no início do século XX, mas só ganhou destaque nos debates sobre questões agrárias na década de 1970. Ela descreve a diversificação de atividades dentro da unidade familiar rural, indo além das categorias tradicionais de agricultura familiar. Isso significa que, além da agricultura, os membros da família também se envolvem em outras atividades produtivas.
Para Graziano da Silva (2000), a pluriatividade deve ser entendida como
“A conjunção das atividades agrícolas com outras atividades que gerem ganhos monetários e não-monetários, independentemente de serem internos ou externos à exploração agropecuária. Isso permite considerar todas as atividades exercidas por todos os membros dos domicílios, inclusive as ocupações por conta própria, o trabalho assalariado e o não-assalariado, realizados dentro ou fora das explorações agropecuárias” (Silva, 2000).
No contexto dos países desenvolvidos, a pluriatividade está associada à tecnificação e especialização da atividade agrícola. Isso ocorre porque a introdução de tecnologias modernas na agricultura pode liberar mão-de-obra ou tempo, permitindo que os membros da família se envolvam em outras atividades. Este fenômeno é muitas vezes referido como “part-time farming”. Nos países periféricos, no entanto, a pluriatividade surge como uma estratégia para complementar a renda familiar. Isso ocorre porque muitas famílias enfrentam dificuldades para obter renda suficiente apenas com atividades agrícolas. Portanto, elas buscam outras formas de ganhar dinheiro, seja através do artesanato, do turismo rural ou de outras atividades não-agrícolas.
No Brasil, a noção de pluriatividade agrícola se intensificou a partir da década de 1990. Isso ocorreu de forma desigual e combinada no espaço rural brasileiro, devido a uma série de fatores, incluindo a intensa concentração da estrutura fundiária e o lento processo de difusão industrial. Apesar desses obstáculos, uma parcela significativa de agricultores familiares se tornou pluriativa. A pluriatividade permite que o agricultor familiar não se concentre exclusivamente na agricultura. Isso abre espaço para a atuação em outras atividades produtivas dentro do campo, como artesanato e turismo rural. Isso rejeita a ideia de agricultura em tempo parcial e permite a realização conjunta de atividades agrícolas e não-agrícolas.
Além disso, a pluriatividade não só busca a complementaridade da renda, mas também vai além. Ela oferece novas perspectivas para a agricultura familiar, permitindo a diversificação de atividades e a busca por alternativas não capitalistas. Isso pode ajudar a reverter o agravamento da pobreza no campo e promover um modelo mais justo de produção e reprodução social no meio agrícola. Além disso, a pluriatividade pode trazer soluções mais eficientes para a formação de uma organização de produção cooperativa entre os agricultores. Ao escolher a melhor atividade complementar de forma conjunta, a posição central dos agricultores associados em relação às estratégias de geração de emprego e renda locais da agricultura familiar não é negligenciada. As atividades pluriativas são periódicas e não sazonais, e não há risco de os agricultores familiares se desvincularem de sua atividade principal (agricultura). Isso possibilita a reversão do agravamento da pobreza no campo, buscando uma alternativa não capitalista.
A partir dos anos 80 e intensificando-se na década de 90, o Brasil viu um crescimento das atividades não-agrícolas no setor rural, em parte devido à descentralização industrial e ao surgimento de novas atividades ligadas à produção rural. Isso levou ao conceito de pluriatividade, que busca entender e explicar os novos processos existentes na realidade agrária do país.
A pluriatividade, que envolve a combinação de atividades agrícolas e não-agrícolas dentro da unidade familiar, surgiu como uma resposta ao crescimento do emprego rural não-agrícola em relação ao emprego agrícola. Isso levou à ideia de ampliar as atividades não-agrícolas no campo e praticar a pluriatividade pelos residentes rurais.
Com as mudanças recentes no espaço rural brasileiro, tornou-se necessário reinterpretar os conceitos usados no setor agrário brasileiro. A queda nos rendimentos dos pequenos agricultores, devido à redução dos preços das principais commodities agrícolas no mundo e à liberação de mão-de-obra devido aos avanços tecnológicos, levou à transformação do meio rural brasileiro e ao surgimento do agricultor de tempo parcial.
Essas mudanças estão levando os agricultores a diversificar suas atividades, implantando atividades não agrícolas que complementam sua renda. Assim, a agricultura tem se tornado uma atividade que responde cada vez menos pela renda e pela ocupação dos trabalhadores agrícolas no campo.
Além disso, novas relações de poder estão sendo desenvolvidas no mundo rural, a partir da inter-relação das atividades rurbanas responsáveis pelo surgimento de riqueza e pobreza no campo. A agricultura, na atividade patronal, está se convertendo em ocupação de tempo parcial e de remuneração insuficiente para manter os agricultores no campo.