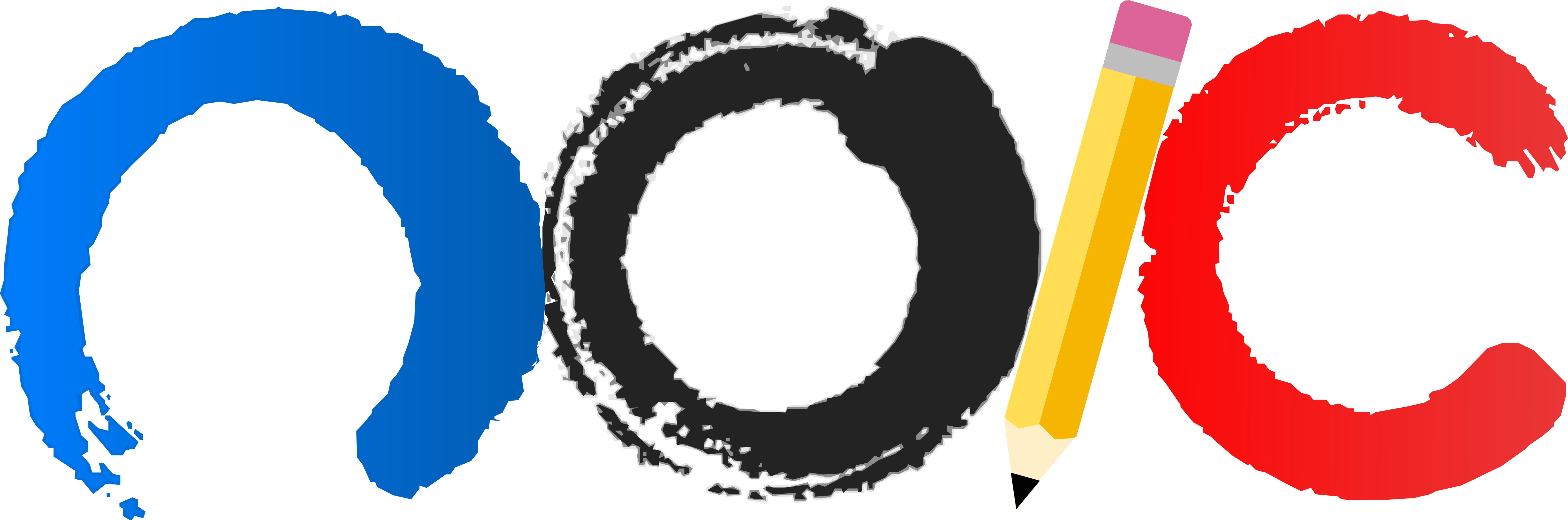Parte II: Sintagma verbal
Por Daniel Agi Pigini
Os problemas de sintagma verbal já são um pouco mais complexos que os de sintagma nominal. Geralmente, uma única palavra do “problemês”, contendo o verbo e todos os seus dependentes (advérbios, pronomes, entre outros) é traduzida como uma frase bem grande no português. Pensando nisso, existem alguns conceitos básicos relevantes para esse tipo de problema:
- Verbo: palavra que indica atividade (ação, fenômeno da natureza) ou estado/existência.
- Sujeito: geralmente, quem performa a ação expressa pelo verbo.
- Objeto: geralmente, sobre quem o sujeito age. Pode ser direto (a ação recai diretamente sobre ele) ou indireto (a ação reflete sobre ele de forma indireta). É importante destacar que a diferença entre o objeto direto e indireto como sendo a preposição não é verdadeira para todas as línguas.
- Argumentos: sujeitos e objetos.
- Transitividade verbal: é a diferenciação entre aqueles verbos que exigem um objeto (transitivos) e os que não exigem (intransitivos). Essa diferença será relevante para a compreensão do conceito de alinhamento morfossintático, na parte de sintaxe.
Também é importante saber que, assim como os nomes, os verbos apresentam algumas variáveis. As mais importantes são: tempo, aspecto, modo, evidencialidade e padrão de argumentos. Vamos analisá-los mais a fundo a seguir:
Tempo:
Tempo é uma característica do verbo que indica em que momento a ação acontece. Existem três subdivisões de tempo: pretérito (indica que a ação já ocorreu antes da fala), presente (quando se passa no momento da fala) e futuro (acontecerá após o momento da fala).
Nem todas as línguas apresentam os três tempos verbais principais. Por exemplo, enquanto o árabe e o japonês só distinguem o futuro e o não futuro (que engloba presente e pretérito), o groenlandês e o nivkh só apresentam pretérito e não pretérito (ou seja, presente e futuro). Além disso, algumas línguas não apresentam tempo verbal, como o mandarim e o dyirbal. Nesses casos, a marcação temporal do evento pode ser feita por meio de advérbios.
Além das línguas que apresentam menos de três tempos verbais, existem as línguas que apresentam mais de três. Alguns exemplos são o tempo hesternal (coisas que aconteceram ontem), crastinal (coisas que vão acontecer amanhã), pré-hesternal (coisas que aconteceram dois dias atrás), pós-crastinal (coisas que vão acontecer daqui a dois dias) e hodiernal (coisas que aconteceram ou vão acontecer hoje). Nesses casos, sempre fique atento às traduções do “problemês” para o português, que pode dar dicas dessa diferenciação.
Como curiosidade, podemos ressaltar que, sob essa perspectiva, o português apresenta apenas os três tempos verbais principais. As diferenças entre os vários “tempos” (por exemplo, os três “pretéritos” do modo indicativo) estão, na verdade, relacionadas ao aspecto.
Aspecto:
O aspecto verbal mostra uma relação de evolução da ação ao longo do tempo, independente do momento em que ela se passa. Os dois principais aspectos são o perfectivo (quando o evento é delimitado, com início e fim determináveis) e imperfectivo (quando ocorre de forma repetitiva/habitual, ou interage com o tempo de forma menos delimitada, sem início e fim determináveis).
Dependendo da língua, pode haver outros aspectos. Alguns dos mais comuns são:
- Progressivo: a ação ocorre de forma contínua (exemplo: ele estava andando).
- Semelfactivo: ações muito rápidas que retornam ao seu estado original, permitindo que sejam repetidas (exemplo: eu pisco).
- Acidental: a ação é feita sem querer (exemplo: ela tropeçou).
Existem diversos outros aspectos verbais, e não é necessário saber o nome deles para resolver os problemas de linguística. O importante é treinar com vários problemas para perceber como diferentes aspectos se manifestam e as “dicas” que as traduções para o português podem te dar (por exemplo, expressões como por um tempo, provavelmente, se preparar para, começar a, terminar de, entre muitas outras possibilidades).
Modo:
O modo indica a atitude do falante diante da mensagem que está sendo transmitida. Eles podem ser classificados em duas categorias amplas: realis e irrealis. Os modos realis indicam fatos ou certezas. Já os irrealis exprimem probabilidade ou possibilidade.
Dentro da categoria realis, o modo mais comum é o indicativo. É o mais comum dos modos e está presente em praticamente todas as línguas, indicando fatos e certezas. Além dele, algumas línguas podem apresentar outro modo realis, indicando verdades absolutas e universais (por exemplo, a neve é fria ou o céu é azul).
Quanto aos modos irrealis, alguns dos mais comuns são:
- Subjuntivo: modo que marca cenários imaginários ou hipotéticos. É o mais importante modo irrealis.
- Condicional: a ação é condicionada por outra ação.
- Optativo: expressa desejo ou vontade.
- Imperativo: comandos ou ordens diretos.
- Jussivo: similar ao imperativo, mas a ordem é dirigida a uma terceira pessoa não presente no momento da fala.
Em algumas línguas, além do modo verbal, a modalidade do verbo pode ser expressa por verbos modais. São verbos que não apresentam sentido completo por conta própria e apenas modificam o sentido de um verbo principal. Alguns exemplos do inglês são: must, should, shall, may, might, ought to, need to, want to, try to, wish to, keep…
Alguns desses verbos podem ser conhecidos como concatenativos, porque podem formar uma sequência (do latim catena, cadeia ou corrente), como em “I want to try to play an instrument” e “She may be obliged to leave the plane”.
Se você perceber em um problema de linguística que há mais de um verbo em uma mesma frase, essa pode ser uma explicação possível. Nesses casos, é importante ver qual é a ordem (se os modais vêm antes do principal ou vice versa) e qual deles é conjugado (caso não sejam os dois).
Evidencialidade:
A evidencialidade se refere à forma pela qual a informação que se está transmitindo foi obtida. Por exemplo, nas línguas pomoanas, existem quatro tipos de evidencialidade, cada um deles com um marcador diferente:
- Visual: o falante viu a ação.
- Sensorial não-visual: o falante sentiu (escutou, cheirou, etc.) algo que aponta para a ação.
- Inferencial: o falante não testemunhou a ação, mas deduziu sua ocorrência a partir de um resultado ou consequência. Por exemplo, se o falante acorda e percebe que o chão está molhado fora de casa, ele pode deduzir que choveu durante a noite, apesar de não ter visto a chuva.
- Reportativa: alguém contou a informação ao falante, que a está repassando.
Existem ainda outros tipos mais simples de evidencialidade. Por exemplo, na distinção evidencialidade direta/evidencialidade indireta, as ações que o falante testemunhou (por qualquer um dos sentidos) recebe uma marcação, enquanto aquelas que ele inferiu ou das quais foi informado recebe outra. Essa forma está presente, por exemplo, na língua turca. Já a distinção de evidencialidade em primeira/segunda/terceira mão distingue se o falante testemunhou a ação por ele mesmo, foi informado por alguém que testemunhou a ação ou foi informado por alguém que não testemunhou a ação.
Nos problemas de linguística, a tradução para o português vai dar “dicas” da existência de evidencialidade no “problemês”, então fique atento a observações que especifiquem de onde a observação veio ou outros recursos que demonstrem essa ideia.
Semântica verbal:
Em algumas línguas, um mesmo radical pode gerar verbos com traduções diferentes para o português. Geralmente, isso acontece quando algum afixo é adicionado para modificar ligeiramente o sentido do radical. Os afixos mais comuns desse tipo são:
- Intensificadores: mostra que a ação foi feita de forma intensa ou excessiva. Alguns exemplos seriam “comer” “devorar” e “machucar” “matar”.
- Mitigadores: são o oposto dos intensificadores e mostram que a intensidade da ação diminui. Alguns exemplos são: “comer” “provar” e “ver” “relancear”.
- Marcador causativo: no português, pode ser traduzido como “fazer alguém”. Por exemplo: “ver” “fazer alguém ver”. No entanto, algumas das traduções podem se tornar outros verbos pertencentes ao mesmo campo semântico: “comer” “fazer alguém comer” “alimentar” ou “aprender” “fazer alguém aprender” “ensinar”.
Além disso, algumas línguas podem apresentar uma distinção entre verbos estativos e de ação, com diferentes marcadores ou ordem de morfemas. Por exemplo, a distinção entre os sentidos “ter buracos” e “fazer buracos” pode ser uma distinção entre atividade e estatividade. É importante também usar a criatividade para perceber outros tipos de variação (por exemplo, “comer de manhã” “tomar café da manhã” ou “comer à noite” “jantar”).
Caso as traduções para o português contenham verbos pertencentes ao mesmo campo semântico (“comer”, “alimentar”, “devorar”, “provar (a comida)”, “jantar”, “tomar café da manhã”), vale a pena desconfiar que esses verbos sejam representados pelo mesmo radical passando por algum tipo de modificação.